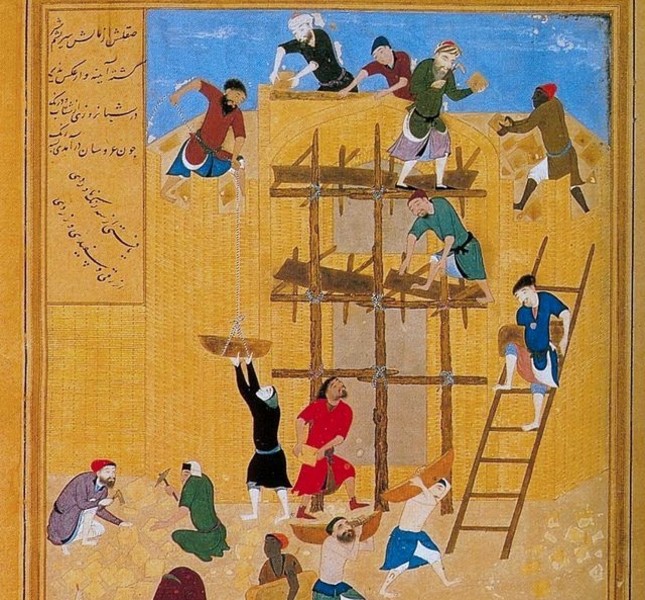Saída dos operários da fábrica, 1895
Coletânea de excertos sobre as várias faces do trabalho, escolhidos a partir de muitas e prazerosas leituras de textos literários e afins (com algumas ilustrações)
terça-feira, 29 de dezembro de 2020
sábado, 26 de dezembro de 2020
segunda-feira, 14 de dezembro de 2020
segunda-feira, 30 de novembro de 2020
quarta-feira, 28 de outubro de 2020
Tu nasceu para vaqueiro
_Você ainda se lembra da primeira topada sua, Raymundão?
_Ah, seô Major, foi um boi retaco, que
caminhava na gente por gosto e investia de olho aberto e cabeça alteada, feito
vaca...O senhor sabe, esse é o pior que tem, para se escorar...Meu pai, que era
vaqueiro mestre, achou que era o dia de experimentar minha força...Dei certo,
na regra, graças a Deus....
_Você pensou alguma coisa na hora, Raymundão?
Que foi que você sentiu?
_Só, na horinha que o bicho partiu em mim, eu
achei que ele era grande demais, e pensei que, de em-antes, eu nunca tinha
visto um boi grande assim, no meio dos outros...Mas isso foi assim num átimo,
porque depois as mãos e o corpo da gente mexem por si, e eu acho que até a vara
se governa...quando dei fé, a festa tinha acabado, e meu pai estava me dando um
cigarro, que ele mesmo tinha enrolado para mim, o primeiro que eu pitei na
vista dele...E foi falando:_ “Meu filho, tu nasceu para vaqueiro, agora eu sei”...
_Velho inteiro! E a bambeza, depois?
_Não tive, seô Major. Só fome muita, isso
sim. O pior foi que eu piscava, e afundei a cabeça n’água fria, mas sem valer,
porque fiquei o dia com aquele boi nas minhas vistas, que nem um retrato, que
doía até...Era um caraúno caralarga, espácio, com sete anos de idade, com os
cinco anéis no pé do chifre...
Guimarães Rosa, João
(1908-1967)
Sagarana. O burrinho pedrês.
João Guimarães Rosa Ficção completa, Volume 1, Rio de Janeiro: Editora Nova
Aguilar, 1995. p 223.
quarta-feira, 14 de outubro de 2020
domingo, 27 de setembro de 2020
domingo, 20 de setembro de 2020
quinta-feira, 10 de setembro de 2020
Eu me tornei poeta
De dia, saiu-me um poema. Ou melhor: trechos. Ruins. Não se publicaram em parte alguma. Noite. A Avenida Srietiênski. Leio as linhas a Burliuk. Acrescento: são de um conhecido meu. David parou. Olhou-me de alto a baixo. Explodiu: “Mas foi você mesmo quem escreveu isto! Você é um poeta genial! ” Um epíteto assim grandioso e imerecido, aplicado a mim, me alegrou. Imergi inteiramente em versos. Nessa noite, de todo inesperadamente, eu me tornei poeta.
Maiakovski, Vladimir (1893-1930)
Maiakovsky: poemas. Tradução Boris Schnaiderman, Haroldo de Campos, Augusto de Campos. Ed. especial rev. e ampl. São Paulo: Perspectiva, 2017, p 66-67.
domingo, 30 de agosto de 2020
domingo, 16 de agosto de 2020
sexta-feira, 31 de julho de 2020
quarta-feira, 22 de julho de 2020
Quando eu trabalhava num sebo
sexta-feira, 17 de julho de 2020
sábado, 11 de julho de 2020
terça-feira, 7 de julho de 2020
A parteira da floresta
sábado, 27 de junho de 2020
Os tradutores são loucos pelos sinônimos
quinta-feira, 25 de junho de 2020
domingo, 21 de junho de 2020
Sou tanoeiro
O código deontológico dos revisores
quarta-feira, 10 de junho de 2020
segunda-feira, 8 de junho de 2020
Ornitorrinco
Cal Max
terça-feira, 2 de junho de 2020
sexta-feira, 29 de maio de 2020
Os trabalhos dos forçados
A galvanização
O trabalho noturno
quinta-feira, 7 de maio de 2020
Inventor do trabalho
Só pode ter uma cabeça oca
Pra conceber tal ideia,
Que coisa louca.
O trabalho dá trabalho demais
E sem ele não se pode viver
Ma há tanta gente no mundo
que trabalha sem nada obter
Somente pra comer.
Contradigo o meu protesto
Com referência ao inventor
A ele cabe menos culpa
Por seu invento causar pavor.
Dona Necessidade é senhora absoluta da minha situação.
Pedreiro Waldemar
Não conhece?
Mas eu vou lhe apresentar.
De madrugada toma o trem da Circular
Faz tanta casa e não tem casa pra morar.
Leva marmita embrulhada no jornal,
Se tem almoço, nem sempre tem jantar.
O Waldemar que é mestre no ofício
Constrói um edifício
E depois não pode entrar.